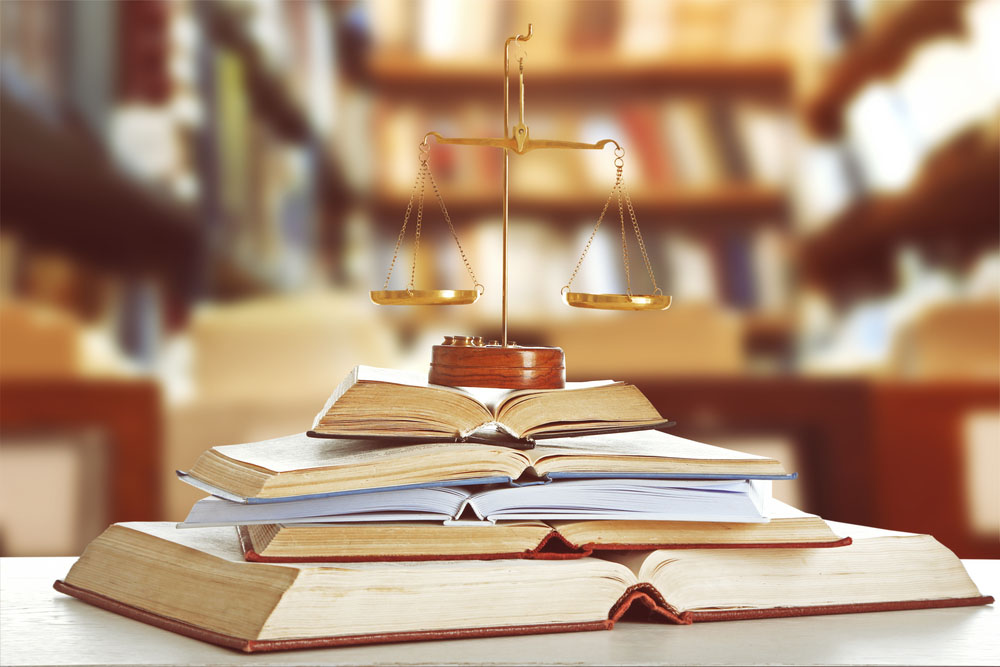
Fonte: Shutterstock.
Deseja ouvir este material?
Áudio disponível no material digital.
Praticar para aprender
Olá, aluno! Em continuidade ao nosso estudo, nesta seção, aprenderemos sobre a teoria da capacidade civil e sobre a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Os incapazes absolutamente são os menores de 16 anos, enquanto os incapazes relativamente são os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os ébrios, os viciados em tóxicos, aqueles que não puderem exprimir sua vontade por causa transitória ou permanente e os pródigos.
Compreenderemos a situação jurídica dos índios, que é regulamentada pelo Estatuto do Índio – Lei nº 6.001/1973 (BRASIL, 1973).
Estudaremos os modos de suprimento e cessação da incapacidade, entendendo a maioridade, a emancipação e seus tipos. Também, veremos sobre a extinção da personalidade natural: morte real, morte presumida, com ou sem ausência. E, ainda, morte civil e comoriência.
Entenderemos os modos de individualização da pessoa natural e aprenderemos sobre o nome, seu conceito, sua natureza, seus elementos e sua imutabilidade.
Estes temas são essenciais para seu desenvolvimento profissional, bem como para qualquer ato ou negócio jurídico realizado.
Relembrando o cenário hipotético apresentado, quando Antônio faleceu, ele deixou dois filhos mais velhos – Francisco e João –, que moravam nos Estados Unidos, frutos de seu casamento anterior, com Patrícia.
Dessa forma, João passou a administrar toda a loja de roupas femininas, gerando grande lucro mensal, inclusive, o suficiente para sustentar ele e seu irmão Francisco.
Com base nisso, você, na condição de advogado, é procurado por João, que deseja uma consultoria para saber se ele e seu irmão terão capacidade civil para administrar e assinar os documentos da empresa.
Para resolver a questão, você terá que abordar a teoria da capacidade civil, entendendo se eles têm capacidade civil plena ou não. E, ainda, se eles forem incapazes, você, como advogado, deve explicar como poderia cessar essa incapacidade.
Vamos aprofundar nossos conhecimentos e entender melhor este conteúdo, pois você ganhará muito com tudo isso.
conceito-chave
Como vimos na seção anterior, a capacidade civil plena envolve a capacidade de direito e a capacidade de fato.
A capacidade de direito é a capacidade genérica, que toda pessoa tem. Se há pessoa, está presente essa capacidade de adquirir direitos e obrigações em geral. Isso somente será perdido com a morte.
Já a capacidade de fato é a aptidão para, pessoalmente, praticar/exercer os atos da vida civil. A ausência da capacidade de fato gera a incapacidade civil, que pode ser absoluta ou relativa.
Concluímos, assim, que toda pessoa tem a capacidade de direito, mas não necessariamente a capacidade de fato. Quem possui as duas espécies de capacidade terá a capacidade civil plena. Veja como Gonçalves descreve:
No direito brasileiro não existe incapacidade de direito, porque todos se tornam, ao nascer, capazes de adquirir direitos (CC, art. 1º). Há, portanto, somente incapacidade de fato ou de exercício. Incapacidade, destarte, é a restrição legal ao exercício dos atos da vida civil, imposta pela lei somente aos que, excepcionalmente, necessitam de proteção, pois a capacidade é a regra. Decorre aquela do reconhecimento da inexistência, numa pessoa, dos requisitos indispensáveis ao exercício dos seus direitos. Somente por exceção expressamente consignada na lei é que se sonega ao indivíduo a capacidade de ação. Supre-se a incapacidade, que pode ser absoluta e relativa conforme o grau de imaturidade, deficiência física ou mental da pessoa, pelos institutos da representação e da assistência.
Então, quem são as pessoas que não têm capacidade de fato? São os relativamente ou absolutamente incapazes.
Os absolutamente incapazes são aqueles que não têm capacidade de fato, assim, não podem praticar os atos da vida civil pessoalmente. Devem sempre ser representados para a realização de ato ou negócio jurídico. Se não houver a representação, o ato ou negócio é nulo de pleno direito (trata-se de nulidade absoluta, que não convalesce com o tempo nem pode ser aproveitada).
De acordo com o art. 3º do Código Civil (BRASIL, 2002), são absolutamente incapazes os menores de 16 anos.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD) – Lei nº 13.146/2015 – alterou os arts. 3º e 4º do Código Civil (BRASIL, 2002), consolidando as ideias constantes na Convenção de Nova Iorque, tratado internacional de direitos humanos, do qual o Brasil é signatário. Assim, após o EPD (BRASIL, 2015), só são absolutamente incapazes os menores impúberes (anteriormente, o Código Civil tinha outras hipóteses de incapacidade absoluta, tais como “os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade” (BRASIL, 2002, [s.p.] – anterior à Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)).
A partir desse documento, a pessoa com deficiência (art. 2º do EPD) passa a ser considerada legalmente capaz, ainda que para atuar necessite do auxílio de institutos protetivos/assistenciais, tais como a tomada de decisão apoiada e a curatela (excepcional) (arts. 6º e 84 do EPD). Assim:
Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir união estável; II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
Já os relativamente incapazes são aqueles que, para praticar os atos da vida civil, precisam ser assistidos, sob pena de nulidade relativa dos atos e negócios praticados. Excepcionalmente, os relativamente incapazes não terão necessidade de assistência de seus representantes legais para serem testemunhas, aceitar mandato, fazer testamento, ser eleitores, celebrar contrato de trabalho, realizar pequenas compras para sobrevivência, etc.
Ressalta-se que o EPD (BRASIL, 2015) também alterou as hipóteses dos relativamente incapazes. Assim, hoje, nosso Código Civil determina que são relativamente incapazes:
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
IV - os pródigos.
Vamos entender cada uma dessas hipóteses.
São relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18 anos, assim o Código Civil determina que a maioridade civil se dá aos 18 anos. Salienta-se que, em regra, a vontade emanada pela pessoa com mais de 16 e menos de 18 anos é considerada juridicamente válida, desde que externada com a assistência, exceto hipóteses legais já explicadas.
Já os ébrios habituais, ou seja, os alcoólatras e os viciados em tóxicos, também são relativamente incapazes. Contudo, nesta hipótese, enquadram-se aqueles que são dependentes habituais, seja de álcool ou entorpecente, e têm sua capacidade de tomar decisões atingida – e não aqueles que estejam sob efeito destes eventualmente. Nestes casos, há a necessidade de interdição relativa e deverá ser apresentado laudo médico comprovando o estado de saúde do interditando. A sentença de interdição deve apontar quais atos podem ou não podem ser praticados pelo indivíduo relativamente incapaz.
No inciso III do Código Civil (BRASIL, 2002), está previsto que aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade são relativamente incapazes. Como exemplo, podemos citar a pessoa em coma, com mal de Alzheimer ou que se encontra eventualmente bêbada ou entorpecida. É importante lembrar que esta era uma hipótese de incapacidade absoluta, que foi modificada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015). Destaca-se que parte da doutrina critica essa mudança, uma vez que há situações extremas que não se encaixam nas hipóteses de incapacidade relativa.
Quanto aos pródigos, são aqueles que descontroladamente gastam seu patrimônio, podendo chegar à miséria, geralmente por causa de algum transtorno de personalidade. A interdição do pródigo somente o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, atos que não sejam de mera administração, conforme previsto no art. 1782 do Código Civil (BRASIL, 2002). Assim, não há restrição para a prática de atos pessoais, uma vez que a sua incapacidade se refere apenas aos atos que possam causar diminuição de seu patrimônio.
Referente à capacidade civil do indígena, verifica-se que o parágrafo único do art. 4º do Código Civil (BRASIL, 2002) define que sua capacidade civil será disciplinada por legislação especial, a qual é o Estatuto do Índio – Lei nº 6.001/1973 (BRASIL, 1973).
Em regra, os índios são absolutamente incapazes. Eles estarão sob a tutela da União. Porém, o índio adaptado poderá ser considerado plenamente capaz para que possa realizar os atos da vida civil, desde que seja emancipado e preencha os requisitos estabelecidos no art. 9º do Estatuto do Índio, quais sejam: idade mínima de 21 anos; domínio da língua portuguesa; habilitação para o exercício de atividade útil à comunidade nacional; autorização judicial, diretamente ou por meio da Fundação Nacional do Índio (Funai). Ainda, as questões indígenas são de competência da Justiça Federal.
Agora, vamos estudar sobre como suprir a incapacidade relativa e absoluta.
O suprimento da incapacidade absoluta se dá por meio do instituto da representação – uma pessoa plenamente capaz representará os absolutamente incapazes, representando-os nos atos da vida civil. Os atos praticados pelos absolutamente incapazes sem seus representantes são nulos de pleno direito, ou seja, não produzem efeitos, não comportam convalidação e podem ser alegados a qualquer momento.
Conforme o Enunciado 138, da III Jornada de Direito Civil, os menores de 16 anos somente podem praticar atos de menor complexidade sem representação desde que tenham discernimento para tanto (BRASIL, 2005). Por exemplo, comprar balas numa padaria.
Já a incapacidade relativa é suprida por meio da assistência – uma pessoa plenamente capaz dará assistência para que o relativamente incapaz pratique os atos da vida civil. Assim, o negócio jurídico deverá ser praticado em conjunto pelo assistido e seu representante.
A ausência do assistente gera a anulabilidade dos atos jurídicos praticados pelo relativamente incapaz, isto é, eles se convalidam se ninguém arguir a validade do negócio jurídico.
Atenção
A incapacidade relativa permite que o incapaz pratique atos da vida civil, desde que assistido por seu representante legal, sob pena de anulabilidade (CC, art. 171, I). Certos atos, porém, pode praticar sem a assistência de seu representante legal, como ser testemunha (art. 228, I), aceitar mandato (art. 666), fazer testamento (art. 1.860, parágrafo único), exercer empregos públicos para os quais não for exigida a maioridade (art. 5º, parágrafo único, III), casar (art. 1.517), ser eleitor, celebrar contrato de trabalho etc. (GONÇALVES, 2018, p. 58)
Há o fim da incapacidade quando cessam as causam que a motivaram. No caso da incapacidade por idade, esta cessa pela: maioridade, conforme o art. 5º do Código Civil: “A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil” (BRASIL, 2002, [s.p.]); ou pela emancipação.
A emancipação é o instituto jurídico que permite a antecipação dos efeitos da capacidade plena (efeitos da maioridade), para data anterior aos 18 anos. Ela é uma das causas de cessação da incapacidade civil, mas não antecipa a maioridade. Pode ser voluntária, judicial ou legal.
A emancipação voluntária se dá pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, desde que o menor tenha, pelo menos, 16 anos completos. Tem caráter irrevogável. Ela é um ato dos pais, não podendo ser exigida pelo menor.
Dica
Mesmo no caso em que apenas um dos pais detenha a guarda do filho, exige-se a autorização de ambos, salvo no caso de falta (morte) de um, uma vez que a guarda não exclui o poder familiar daquele que não a tem.
Assimile
A jurisprudência (REsp 122573/PR, AgRg AG 123957/RJ) e a doutrina entendem que, na emancipação voluntária, diferentemente da legal, os pais continuam solidariamente responsáveis pelos atos ilícitos cometidos pelo filho emancipado até que complete 18 anos de idade.
A emancipação judicial é aquela prevista no art. 5º, parágrafo único, inciso I, segunda parte, do Código Civil (BRASIL, 2002). Ela é concedida pelo juiz, após ser ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos.
Já a emancipação legal ocorre em algumas hipóteses determinadas em lei. A primeira hipótese é o casamento. Homem e mulher, com 16 anos, com autorização dos pais ou responsáveis, podem casar-se, e como efeito há a emancipação do menor.
Reflita
Como seria se, após o casamento, e como consequência com a constituição de um novo núcleo familiar, fosse mantido o poder familiar ao cônjuge menor? A família seria administrada por terceiro (o responsável pelo menor). Haveria sentido?
A segunda hipótese é o exercício de emprego público efetivo. A terceira hipótese é a colação de grau em ensino superior (faculdade). E a quarta hipótese, prevista no Código Civil (BRASIL, 2002), é ser proprietário de estabelecimento civil ou comercial, ou ter de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria.
A emancipação extingue o poder de família e cessa a condição de tutela, porém não necessariamente extingue o dever de prestar alimentos dos pais. Vale ressaltar também que a emancipação, em qualquer modalidade, é irrevogável.
Seguindo com nosso estudo, entenderemos agora como se dá a extinção da pessoa natural.
O art. 6º do Código Civil (BRASIL, 2002) diz que a existência da pessoa natural termina com a morte, que pode ser real ou presumida.
O critério usado atualmente pela comunidade científica mundial para a definição de morte real é a ocorrência de morte encefálica da pessoa. A morte deverá ser declarada por um médico, mas, se não houver, pode ser por duas testemunhas.
A morte pode também ser presumida, com e sem decretação de ausência.
A morte com decretação de ausência é uma hipótese regulada na segunda parte do art. 6º e a partir do art. 22 do Código Civil (BRASIL, 2002). Ocorre quando a pessoa desaparece do seu domicílio sem deixar notícia, ou alguém que o representante e administre seus bens. Primeiramente, há a sucessão provisória dos bens e, posteriormente, a sucessão definitiva, quando o ausente passa a ser considerado presumidamente morto.
A morte é presumida sem a decretação de ausência quando há indícios de morte, conforme previsto no art. 7º do Código Civil (BRASIL, 2002). Nesta hipótese, não há um simples desaparecimento, mas uma situação com elementos que tornam a morte muito provável – mesmo que o corpo do defunto não tenha sido encontrado. São duas as situações: extrema probabilidade de morte de quem estava em perigo de vida, ou desaparecido dois anos após o término da guerra.
Ainda sobre a morte da pessoa natural, há dois conceitos importantes que precisamos estudar: a comoriência e a morte civil.
A comoriência traduz uma situação de morte simultânea, ou seja, se duas ou mais pessoas falecem na mesma ocasião, sem que se possa saber qual morte ocorreu primeiro, de modo que se presumem simultaneamente mortos (art. 8º do Código Civil). Assim, a presunção da comoriência somente é aplicada se não for possível indicar a ordem cronológica das mortes. Salienta-se que somente haverá interesse jurídico na sua definição se os mortos forem da mesma família, pois questões sucessórias de bens estarão em jogo.
Na comoriência, indaga-se: a morte tem que ocorrer no mesmo lugar? Não. Apenas na mesma ocasião.
Pode-se dizer que há um resquício da morte civil (que é ficta, ocorrendo quando a pessoa, mesmo estando viva, é considerada morta para alguns efeitos jurídicos civis) no art. 1.816 do Código Civil, que trata da hipótese do herdeiro, mesmo vivo, ser afastado da herança, como se ele “morto fosse antes da abertura da sucessão”. No entanto, somente produz efeito para afastá-lo da herança, conservando sua personalidade para os demais efeitos jurídicos. Encontramos também na legislação militar a hipótese de quando o indigno do oficialato perde o seu posto e respectiva patente, mas sua família pode receber pensão, como se ele houvesse falecido (Decreto-Lei nº 3.038, de 10 de fevereiro de 1941).
Seguindo com nossos estudos, aprenderemos agora sobre a individualização da pessoa. A pessoa natural se individualiza pelo nome, estado e domicílio. Conforme Diniz (2020, p. 33), “a identificação da pessoa se dá pelo nome, que a individualiza; pelo estado, que define sua posição na sociedade política e na família, como indivíduo; e pelo domicílio, que é o lugar de sua atividade social”.
O nome é o sinal que representa e individualiza a pessoa na sociedade. Trata-se de verdadeiro direito da personalidade, previsto nos arts. 16 a 19 do Código Civil (BRASIL, 2002). O art. 16 preceitua que “Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome” (BRASIL, 2002, [s.p.]).
O nome é composto pelo: 1. Prenome, que é o nome próprio de cada pessoa, que pode ser simples (ex.: João) ou composto (ex.: João Carlos); 2. Sobrenome (patronímico), que identifica a origem familiar. Ele precisa ser o primeiro nome do pai ou da mãe, podendo usar nome de ancestrais distantes (Ex.: Silva); 3. Agnome é a partícula diferenciadora entre pessoas da mesma família com o mesmo nome, por exemplo, Júnior, Filho, Neto, Sobrinho, etc.; e 4. Partícula (do, de).
Exemplificando
- João (prenome) Silva (patronímico) Filho (agnome).
- Maria José (prenome) da (partícula) Silva (patronímico).
É importante salientar que os títulos de nobreza (por exemplo, conde e barão) não compõem o nome civil.
Já o pseudônimo é o nome utilizado durante as atividades profissionais lícitas (por exemplo, Didi). É diferente do apelido, que é o nome utilizado tanto na esfera pessoal quanto profissional (por exemplo, Pelé). Veja o que dispõe o Código Civil: “Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome” (BRASIL, 2002, [s.p.]).
O nome, em regra, é imutável, mas há algumas exceções previstas na lei ou jurisprudência.
A primeira exceção ocorre quando a pessoa atinge os 18 anos. O titular tem o direito de mudar seu nome imotivadamente, no prazo decadencial de um ano, no entanto deverá manter seu patronímico (para indicação de sua origem).
Ainda, a segunda hipótese de mudança ocorre quando o nome que a pessoa tem a expõe ao ridículo ou a situações vexatórias (art. 17 do Código Civil).
Após o casamento, os nubentes podem acrescentar o patronímico do outro, independentemente de autorização judicial (§ 1º do art. 1.565 do Código Civil).
Adicionalmente, quando efetivada a adoção, é possível mudar todo o nome (Lei nº 12.010/09). O Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80 – Revogada pela Lei nº 13.445/2017) permite também, após adquirida a cidadania brasileira.
A jurisprudência prevê diversas hipóteses em que é permitida a mudança do nome, tais como: no caso de viuvez, abandono afetivo e ser transexual, independentemente de ter realizado cirurgia.
Já o estado da pessoa pode ser individual, familiar ou político. O estado individual é o modo de ser da pessoa quanto à idade, ao sexo, à cor, à altura e à saúde. Estado familiar é o que indica a situação dela na família, em relação ao matrimônio (solteiro, casado, viúvo, divorciado) e ao parentesco, por consanguinidade ou afinidade (pai, filho, irmão, sogro, cunhado, etc.). E o estado político é a posição do indivíduo na sociedade política, podendo ser nacional (nato ou naturalizado) ou estrangeiro.
Quanto ao domicílio da pessoa, estudaremos nas próximas seções.
Nesta seção, você aprendeu que a incapacidade civil da pessoa pode ser relativa ou absoluta. O incapaz absolutamente é o menor impúrbere, ou seja, menor de 16 anos. Já o relativamente incapaz é o maior de 16 e menor de 18 anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade e os pródigos. Viu que a capacidade jurídica do índio é regulada pelo Estatuto do Índio, e que cessa a incapacidade por idade pela maioridade civil e pela emancipação. Além disso, estudou que o fim da personalidade da pessoa natural se dá com a morte real ou presumida, a qual pode ser com ou sem decretação de ausência. Finalmente, compreendeu que a individualização da pessoa se dá pelo nome, estado e domicílio.
Faça valer a pena
Questão 1
O rol taxativo dos absolutamente incapazes, constante no art. 3º do CC/2002, sempre envolveu situações em que há proibição total para o exercício de direitos por parte da pessoa natural, o que pode acarretar, ocorrendo violação à regra, a nulidade absoluta do negócio jurídico eventualmente celebrado, conforme o art. 166, inc. I, do mesmo diploma. Os absolutamente incapazes possuem direitos, porém não podem exercê-los pessoalmente, devendo ser representados. Em outras palavras, têm capacidade de direito, mas não capacidade de fato ou de exercício.
Nesse contexto, são absolutamente incapazes:
Tente novamente...
Tente novamente...
Tente novamente...
Tente novamente...
Correto!
Conforme o art. 3º do Código Civil, “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos" (BRASIL, 2002, [s.p.]). O artigo menciona a única hipótese de incapacidade absoluta prevista em nosso Código: os menores de 16 anos, tidos como menores impúberes. De acordo com o art. 4º do Código Civil, “são incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV - os pródigos" (BRASIL, 2002, [s.p.]).
Questão 2
“O vocábulo ‘nome’, como elemento individualizador da pessoa natural, é empregado em sentido amplo, indicando o nome completo. Integra a personalidade, individualiza a pessoa não só durante a sua vida como também após a sua morte, e indica a sua procedência familiar.” (GONÇALVES, 2018, p. 75).
Considerando esse contexto, analise as seguintes afirmativas:
- O prenome compõe o nome da pessoa física.
- O patronímico compõe o nome da pessoa física.
- Título de nobreza compõe o nome da pessoa física.
É correto o que se afirma em:
Tente novamente...
Tente novamente...
Tente novamente...
Correto!
O prenome compõe o nome da pessoa física. É o primeiro nome, que identifica a pessoa (por exemplo, Joana). Patronímico é o sobrenome da família e compõe o nome da pessoa física (por exemplo, Silva). Título de nobreza não compõe o nome da pessoa física (por exemplo, lorde e duque).
Tente novamente...
Questão 3
No direito brasileiro não existe incapacidade de direito, porque todos se tornam, ao nascer, capazes de adquirir direitos (CC, art. 1º). Há, portanto, somente incapacidade de fato ou de exercício. Incapacidade, destarte, é a restrição legal ao exercício dos atos da vida civil, imposta pela lei somente aos que, excepcionalmente, necessitam de proteção, pois a capacidade é a regra193. Decorre aquela do reconhecimento da inexistência, numa pessoa, dos requisitos indispensáveis ao exercício dos seus direitos194. Somente por exceção expressamente consignada na lei é que se sonega ao indivíduo a capacidade de ação.
Diante deste contexto, assinale a alternativa correta:
Tente novamente...
Correto!
Conforme o art. 4º do Código Civil, “São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: os pródigos" (BRASIL, 2002, [s.p.]). São pessoas que dissipam o seu patrimônio de forma desordenada, realizando gastos desnecessários e excessivos. Por exemplo, pessoas viciadas em jogos. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, são relativamente incapazes (art. 4º, III, CC). O parágrafo único do art. 4º do Código Civil (BRASIL, 2002) dispõe que a situação dos indígenas será regulada por lei especial e não determina que eles serão relativamente incapazes. Os maiores de 16 e menores de 18 anos são relativamente incapazes (art. 4º, I, CC). Os ébrios habituais e os viciados em tóxico são relativamente incapazes (art. 4º, II, CC).
Tente novamente...
Tente novamente...
Tente novamente...
Referências
BASTIAN, I. O. A capacidade jurídica da pessoa com deficiência: da tutela institucional à tomada de decisão apoiada. 2016, 51f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2016. Disponível em: https://biblioteca-virtual.com/detalhes/eds/edsbas/edsbas.90766A4A. Acesso em: 13 out. 2020.
BRASIL. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm#art124. Acesso em: 13 dez. 2020.
BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 13 dez. 2020.
BRASIL. Lei nº 12.010, de 3 de agosto de 2009. Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12010.htm. Acesso em: 13 dez. 2020.
BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Jornada de Direito Civil. Brasília, DF: CJF, 2005. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/201. Acesso em: 25 out. 2020.
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 3 out. 2020.
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 3 out. 2020.
BRASIL. Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o Estatuto do Índio. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6001.htm. Acesso em: 13 dez. 2020.
BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 20 jul. 2020.
BRASIL. Decreto-Lei nº 3.038, de 10 de fevereiro de 1941. Dispõe sobre a declaração de indignidade para o oficialato. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3038-10-fevereiro-1941-413341-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 13 dez. 2020.
DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro – Teoria Geral do Direito Civil – Vol. 1. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. Disponível em: https://biblioteca-virtual.com/detalhes/eds/edsbas/edsbas.D70BF697. Acesso em: 4 out. 2020.
FARIAS, C. C.; NETTO, F. B.; ROSENVALD, N. de. Manual de Direito Civil – Volume Único. Salvador, BA: JusPodivm, 2017. Disponível em: https://biblioteca-virtual.com/detalhes/eds/edsbas/edsbas.7F316240. Acesso em: 4 out. 2020.
GAGLIANO, P. S. Manual de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2020. Disponível em: https://biblioteca-virtual.com/detalhes/eds/edsmib/edsmib.000008025. Acesso em: 2 out. 2020.
GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro, volume 1: Parte Geral. 15. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Disponível em: https://biblioteca-virtual.com/detalhes/eds/edsbas/edsbas.D0E70A25. Acesso em: 4 out. 2020.
TARTUCE, F. Direito Civil: Volume 1. Rio de Janeiro: Forense, 2019. Disponível em:
https://biblioteca-virtual.com/detalhes/eds/edsbas/edsbas.E8C3C38D. Acesso em: 4 out. 2020.



